Arte, romance
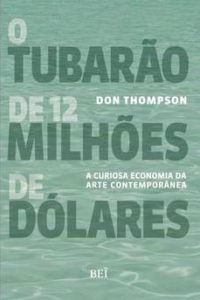 Tenho lido bastante sobre arte contemporânea. Meu próximo romance, em andamento, e com o título provisório de Fama Volat, versa sobre o assunto. Mais não falo – até porque a quem interessaria? Pois bem: o livro à esquerda, cujo título se refere a uma específica obra de arte (sim, um tubarão de verdade) e seu valor de mercado, expõe, de forma curiosa e contundente, os motivos que levam uma determinada obra a ser avaliada de forma exponencial – em termos econômicos, evidentemente. Sabe-se, claro, que a unicidade da obra artística – um quadro, uma escultura, um mural etc. – pode ser uma catapulta monetária. Isso não é novidade e também não é suficiente para que tal catapulta faça seu trabalho.
Tenho lido bastante sobre arte contemporânea. Meu próximo romance, em andamento, e com o título provisório de Fama Volat, versa sobre o assunto. Mais não falo – até porque a quem interessaria? Pois bem: o livro à esquerda, cujo título se refere a uma específica obra de arte (sim, um tubarão de verdade) e seu valor de mercado, expõe, de forma curiosa e contundente, os motivos que levam uma determinada obra a ser avaliada de forma exponencial – em termos econômicos, evidentemente. Sabe-se, claro, que a unicidade da obra artística – um quadro, uma escultura, um mural etc. – pode ser uma catapulta monetária. Isso não é novidade e também não é suficiente para que tal catapulta faça seu trabalho.
O papel dos marchands, dos colecionadores e da imprensa (essa, inacreditavelmente com menos poder) faz de uma obra uma mina de ouro. Aquilo que muitos nunca considerariam arte é visto como algo que pode ser avaliado em alguns milhões de dólares. Mas como? Quando um artista deixa de ser um artista e se transforma numa marca. Eis a questão. Passa-se a consumir a marca e não o produto. O livro explica para mim o que provavelmente os indivíduos envolvidos nesse meio sabem de salteado: a obra de arte é, acima de tudo, um investimento. Don Thompson, o autor – ele também um colecionador -, expõe o papel quase mafioso dos colecionadores e dos leiloeiros. Não se iluda: é um mundo desconhecido para a maioria das pessoas que lê este texto. Daí o livro ser interessante, como um conto de fadas verossímil – ou mais que isso: verdadeiro.
E o tubarão? Seu autor/artista chama-se Damien Hirst e a obra tem um sugestivo título: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Algo como A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Um título pra lá de publicitário, instigante, representando um mercado imune a crises econômicas, um mercado que vive da especulação e não do prazer estético que uma obra de arte pode proporcionar. Nenhuma crítica nisso, deixo claro. Cada um se relaciona com a arte como quer (e como pode). Há um documentário interessantíssimo (e boicotado por muitos canais de tevê fechada) intitulado The Mona Lisa Curse. Nele, Robert Hughes, o mais renomado crítico de arte do mundo, critica o citado mercado e surra inclementemente muitos artistas contemporâneos, tão fabricados quanto uma caixa de fósforos. Interessantíssimo mesmo, pode apostar.
O tubarão, como eu disse, é criação de Damien Hirst. Ei-lo, abaixo, com seu tubarão, ao fundo. Só para constar: o bicho foi condicionado numa solução de formol, mas, com o tempo de exposição na galeria, a coisa foi-se deteriorando. Como vendê-lo? Qual a solução? Damien não titubeou: por telefone, fez um anúncio em várias agências de correio do litoral australiano, as quais espalharam cartazes: Precisa-se de Tubarão. Simples. Conseguiu mais alguns exemplares, mas inquietou os críticos, que afirmaram: se não é o tubarão original, a obra passa a ser outra. Sim, leva-se isso a sério.



 Mas meu disco preferido não é obra de estúdio – e sim ao vivo, ao lado de Buddy Miles, ex-baterista da banda de Jimi Hendrix. Na cratera do vulcão Diamond Head, no Havaí, durante o Sunshine Festival, em 1972. É um som absoluto, musculoso, lisérgico, com a força sonora que faz jus ao local onde é produzida. É como lava fumegante descendo sobre a cabeça de quem ouve. Não, não estou exagerando. Mas não espere a barulheira nem os exibicionismos do heavy metal. É som de verdade, e com destaque para a pegada funky em
Mas meu disco preferido não é obra de estúdio – e sim ao vivo, ao lado de Buddy Miles, ex-baterista da banda de Jimi Hendrix. Na cratera do vulcão Diamond Head, no Havaí, durante o Sunshine Festival, em 1972. É um som absoluto, musculoso, lisérgico, com a força sonora que faz jus ao local onde é produzida. É como lava fumegante descendo sobre a cabeça de quem ouve. Não, não estou exagerando. Mas não espere a barulheira nem os exibicionismos do heavy metal. É som de verdade, e com destaque para a pegada funky em 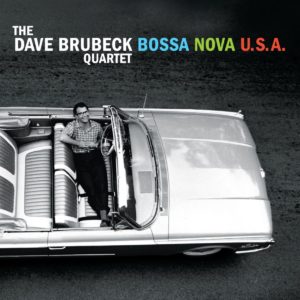











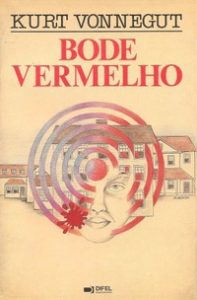 Pode até ser que você, sexto ou sétimo leitor, não me pergunte, mas vou citar os livros de Vonnegut de que mais gosto. Vale para preencher a postagem, assim como vale para um possível curioso que leve a sério o que digo. Leia Almoço dos Campeões, Bem Vindo à Casa dos Macacos, Bode Vermelho, Cama de Gato, Galápagos e, claro, Matadouro 5. São clássicos, embora eu considere clássica praticamente toda a obra desse senhor. Todos esses livros citados podem ser encontrados em traduções satisfatórias, mas se você lê na língua de Vonnegut a coisa fica melhor, tenha certeza. Aliás, não é só o documentário que abriu a postagem que revela o namoro entre Vonnegut e o cinema.
Pode até ser que você, sexto ou sétimo leitor, não me pergunte, mas vou citar os livros de Vonnegut de que mais gosto. Vale para preencher a postagem, assim como vale para um possível curioso que leve a sério o que digo. Leia Almoço dos Campeões, Bem Vindo à Casa dos Macacos, Bode Vermelho, Cama de Gato, Galápagos e, claro, Matadouro 5. São clássicos, embora eu considere clássica praticamente toda a obra desse senhor. Todos esses livros citados podem ser encontrados em traduções satisfatórias, mas se você lê na língua de Vonnegut a coisa fica melhor, tenha certeza. Aliás, não é só o documentário que abriu a postagem que revela o namoro entre Vonnegut e o cinema.  Alguém já disse que escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura. A frase é boa, mas limita a arte a um sentido específico – o que é, grosso modo, uma inequívoca injustiça. Nos primórdios do Ipsis, escrevi muito sobre jazz, meu gênero preferido, meu prazer obrigatório. Claro: aprecio a emepebê, o rock, o blues, o samba. Chego a reconhecer que a música clássica é o que de melhor há nessa arte, mas nada me toca tanto, musicalmente (e sem trocadilhos), como o jazz. Conversando certa vez com um amigo, disse-me ele que quem gosta de jazz é intelectual. Isso não é verdade. Intelectual apenas diz que gosta, e afirma isso entre goles de gim, marlboro entre os dedos, meio-sorriso treinado.
Alguém já disse que escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura. A frase é boa, mas limita a arte a um sentido específico – o que é, grosso modo, uma inequívoca injustiça. Nos primórdios do Ipsis, escrevi muito sobre jazz, meu gênero preferido, meu prazer obrigatório. Claro: aprecio a emepebê, o rock, o blues, o samba. Chego a reconhecer que a música clássica é o que de melhor há nessa arte, mas nada me toca tanto, musicalmente (e sem trocadilhos), como o jazz. Conversando certa vez com um amigo, disse-me ele que quem gosta de jazz é intelectual. Isso não é verdade. Intelectual apenas diz que gosta, e afirma isso entre goles de gim, marlboro entre os dedos, meio-sorriso treinado.

