Creio que escrever sobre futebol – e ainda mais comemorar algo relativo a ele – esteja um pouco fora da ordem do dia. É provável e possível. Pandemia, desgoverno, racismo e fake news são assuntos mais atuais. Deixo temporariamente de lado para ilustrar os 50 anos do tricampeonato mundial no México – na verdade, a primeira Copa do Mundo de que me lembro, quando tinha oito anos. A partir de então, acompanhei todas as outras, mas torci pela seleção brasileira nos torneios de 1974, 1978. Depois, nunca mais. Qualquer dia conto os motivos, se houver interesse.
Mas eis o que eu queria dizer: as imagens da Copa no México são repetidas à exaustão. Poucos desconhecem os lances mais emblemáticos, como este, abaixo:

Sim, é o drible de corpo que Pelé impôs ao goleiro uruguaio, na semifinal. Ladislao Mazurkiewicz, filho de poloneses, era um dos melhores arqueiros do mundo. Foi humilhado pelo jogador mais ofensivo do futebol, mas contou com a sorte. A bola, ao final da jogada, não entrou. Não sei se você – que está lendo – sabe, mas essa jogada inspirou um romance intitulado O Drible, do mineiro Sérgio Rodrigues. Vale ler.
Outra imagem, também repetida: o cabeceio do mesmo Pelé, contra o gol inglês, defendido espetacularmente pelo melhor goleiro da época, Gordon Banks. O interessante é que por 50 anos deu-se, justificadamente, muito valor à defesa, tida como a mais difícil das copas, daí eu privilegiar o instantâneo do cabeceio, da impulsão.

Pois é. Gerson, o melhor meia que vi jogar, fez apenas 1 gol naquela copa – e justamente na final, contra a Itália. Um chute poderoso, de canhota, que venceu o goleiro Albertosi. Ok, ok: o time da Itália estava cansado, afinal participara, poucos dias antes, do chamado Jogo do Século, ao vencer, na semifinal, a Alemanha por 5 a 4. Sinceramente? Se a Itália tivesse dormido uma semana, mesmo descansada não venceria o Brasil. Eis o chute de Gerson, visto num ângulo pouco difundido:

Agora imagine um centroavante que só tenha feito 2 gols: ambos contra o Peru, partida em que o Brasil venceu por 4 a 2. Pois é: Tostão, camisa 9, era ponta-de-lança no grande Cruzeiro do início dos anos 1970. Fez vários gols nas Eliminatórias, e no México, além dos gols citados, foi fundamental nos jogos contra o Uruguai e contra a Inglaterra. Um gênio absoluto no gramado.

A Copa de 1970 foi meu début. A partir de então, passei a apreciar o futebol, acompanhei a Copa de 1974, com 12 anos e lendo exemplares da revista Placar. Assisti à potência argentina em 1978 até chegar em 1982 quando, por questões políticas, passei a torcer contra. Uma bobagem que fica para a próxima, coisa de universitário de 20 anos que considerava futebol alienação. Repito: bobagem. Por quanto, eis mais algumas imagens:



Sim, há 50 anos.


 Assisti há pouco, na tevê fechada, a uma entrevista com Woody Allen na qual ele afirma – dentre outros assuntos – que assistiu ao filme 2001 Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick, 3 vezes, até gostar dele. Faço cá uma conta: considerando que Mr. Allen nasceu em 1935, e considerando ainda mais que ele assistiu à famosa película assim que foi lançada, em 1968, é possível dizer que o cineasta novaiorquino já era um homem maduro quando afirmou que a referida obra-prima da ficção-científica não caiu em suas graças. Woody Allen tinha, na ocasião, 33 anos e já havia escrito duas peças teatrais e um filme bem interessante, a comédia O que há, Tigresa?, sem contar os oito anos como comedienne.
Assisti há pouco, na tevê fechada, a uma entrevista com Woody Allen na qual ele afirma – dentre outros assuntos – que assistiu ao filme 2001 Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick, 3 vezes, até gostar dele. Faço cá uma conta: considerando que Mr. Allen nasceu em 1935, e considerando ainda mais que ele assistiu à famosa película assim que foi lançada, em 1968, é possível dizer que o cineasta novaiorquino já era um homem maduro quando afirmou que a referida obra-prima da ficção-científica não caiu em suas graças. Woody Allen tinha, na ocasião, 33 anos e já havia escrito duas peças teatrais e um filme bem interessante, a comédia O que há, Tigresa?, sem contar os oito anos como comedienne.








 Pois a vida é feita de coincidências: ontem pela manhã, resolvi ouvir um disco que não punha para rodar há alguns anos. Isso acontece com frequência. O título remete às incumbências dos artistas que o protagonizam: Sammy Davis, Jr. e Laurindo Almeida. Este último é o motivo desta postagem porque há 25 anos esse grande violonista deixou o mundo menos sonoro. O disco é uma maravilha, uma aula de como se deve cantar – quando se está instrumentalizado para isso – e outra de como o violão pode (e deve) tornar a vida mais feliz. Qualquer vida.
Pois a vida é feita de coincidências: ontem pela manhã, resolvi ouvir um disco que não punha para rodar há alguns anos. Isso acontece com frequência. O título remete às incumbências dos artistas que o protagonizam: Sammy Davis, Jr. e Laurindo Almeida. Este último é o motivo desta postagem porque há 25 anos esse grande violonista deixou o mundo menos sonoro. O disco é uma maravilha, uma aula de como se deve cantar – quando se está instrumentalizado para isso – e outra de como o violão pode (e deve) tornar a vida mais feliz. Qualquer vida.
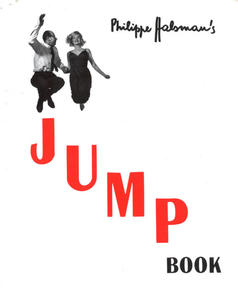 Pois não é que 47 anos antes, já se considerava o pulo algo libertário, que transcendia qualquer limite razoável e que deveria ser praticado por todos algumas vezes por semana? Quem pensava assim? Philippe Halsman, fotógrafo nascido na Letônia, e que, em 1959, lançou Jump Book: essa, sim, uma deliciosa bobagem. Tive essa raridade (a edição do ano de lançamento) em mãos, num sebo em Lisboa, mas não tive a coragem de desembolsar 440 euros pelo item.
Pois não é que 47 anos antes, já se considerava o pulo algo libertário, que transcendia qualquer limite razoável e que deveria ser praticado por todos algumas vezes por semana? Quem pensava assim? Philippe Halsman, fotógrafo nascido na Letônia, e que, em 1959, lançou Jump Book: essa, sim, uma deliciosa bobagem. Tive essa raridade (a edição do ano de lançamento) em mãos, num sebo em Lisboa, mas não tive a coragem de desembolsar 440 euros pelo item.








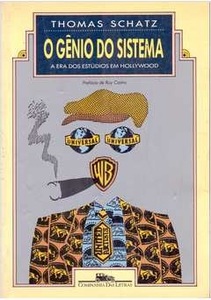 Há alguns anos li – e justamente por conta da provocação de meu amigo historiador, resolvi reler – O Gênio do Sistema – a Era dos Estúdios em Hollywood, de Thomas Schatz. Na primeira leitura, a surpresa: essa ideia de que, nos áureos tempos da cinema norte-americano quem dava as cartas era o diretor é de um romantismo que beira a ingenuidade. Quem mandava, de fato, eram os chefões dos estúdios. Davam pitacos na música, no roteiro (às vezes reescreviam tudo), escolhiam atores e atrizes, norteavam a publicidade e, caso fosse necessário, até iriam para trás das câmeras.
Há alguns anos li – e justamente por conta da provocação de meu amigo historiador, resolvi reler – O Gênio do Sistema – a Era dos Estúdios em Hollywood, de Thomas Schatz. Na primeira leitura, a surpresa: essa ideia de que, nos áureos tempos da cinema norte-americano quem dava as cartas era o diretor é de um romantismo que beira a ingenuidade. Quem mandava, de fato, eram os chefões dos estúdios. Davam pitacos na música, no roteiro (às vezes reescreviam tudo), escolhiam atores e atrizes, norteavam a publicidade e, caso fosse necessário, até iriam para trás das câmeras.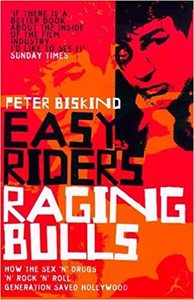 Se você obtiver o livro – hoje, somente em sebos, porque ele foi editado em 1991 e, até onde sei, não teve reedição -, não deixe de ler. Claro: estou considerando que haja interesse em compreender como Hollywood se comporta hoje em dia, após o advento da tevê, do cinema digital e das plataformas de streaming. O início de tudo está lá, entre as décadas de 1930, e 1950. Há um outro livro, que aborda o sistema em sua decadência, a partir dos anos 1960, cujo título é Easy Riders, Raging Bulls – Como a Geração Sex-Drogas-e-Rock’n’roll salvou Hollywood. Esse eu estou lendo. Seu autor é Peter Biskind e em breve falo sobre ele. Ele, claro, é o livro que, a propósito, não está esgotado.
Se você obtiver o livro – hoje, somente em sebos, porque ele foi editado em 1991 e, até onde sei, não teve reedição -, não deixe de ler. Claro: estou considerando que haja interesse em compreender como Hollywood se comporta hoje em dia, após o advento da tevê, do cinema digital e das plataformas de streaming. O início de tudo está lá, entre as décadas de 1930, e 1950. Há um outro livro, que aborda o sistema em sua decadência, a partir dos anos 1960, cujo título é Easy Riders, Raging Bulls – Como a Geração Sex-Drogas-e-Rock’n’roll salvou Hollywood. Esse eu estou lendo. Seu autor é Peter Biskind e em breve falo sobre ele. Ele, claro, é o livro que, a propósito, não está esgotado.

 Quando se chega pela primeira vez a este espaço, observa-se que, à direita de quem olha, há um widget intitulado Livro do Mês. Escolha pessoal, claro, já que mando e desmando neste blogue. Vamos em frente!
Quando se chega pela primeira vez a este espaço, observa-se que, à direita de quem olha, há um widget intitulado Livro do Mês. Escolha pessoal, claro, já que mando e desmando neste blogue. Vamos em frente!
 Bill Evans é meu número 1. O disco é On Green Dolphin Street, de 1975, com dois craques do Miles Davis Quintet, Paul Chambers (baixo) e Philly Joe Jones, bateria.
Bill Evans é meu número 1. O disco é On Green Dolphin Street, de 1975, com dois craques do Miles Davis Quintet, Paul Chambers (baixo) e Philly Joe Jones, bateria. 
:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-7816790-1449400629-8521.jpeg.jpg) Earl Hines é um dos gênios do piano em qualquer gênero. Here Comes Earl “Fatha” Hines é o nome do disco escolhido, de 1966, e que se pode ouvir, faixa a faixa,
Earl Hines é um dos gênios do piano em qualquer gênero. Here Comes Earl “Fatha” Hines é o nome do disco escolhido, de 1966, e que se pode ouvir, faixa a faixa, 


 Thelonious Monk não precisa ser apresentado a ninguém. É o quarto lugar na minha lista. Um revolucionário que tocava com dedos esticados e balançando incansavelmente as pernas. O disco escolhido é Brilliant Corners, de 1957. As presenças de Sonny Rollins, no sax tenor, e de Clark Terry, no trompete, contam muito para a escolha. Ouça
Thelonious Monk não precisa ser apresentado a ninguém. É o quarto lugar na minha lista. Um revolucionário que tocava com dedos esticados e balançando incansavelmente as pernas. O disco escolhido é Brilliant Corners, de 1957. As presenças de Sonny Rollins, no sax tenor, e de Clark Terry, no trompete, contam muito para a escolha. Ouça 
 Dave Brubeck foi o pianista que me levou ao jazz. Time Further Out não foi, entretanto, o primeiro disco desse grande pianista que conheci – mas é, em estúdio, o melhor que conheço. E traz o quarteto original: Paul Desmond, no sax alto; Joe Morello, na bateria, e Gene Wright, no contrabaixo.
Dave Brubeck foi o pianista que me levou ao jazz. Time Further Out não foi, entretanto, o primeiro disco desse grande pianista que conheci – mas é, em estúdio, o melhor que conheço. E traz o quarteto original: Paul Desmond, no sax alto; Joe Morello, na bateria, e Gene Wright, no contrabaixo. 






