Nara, aos 32

Sim, a voz de Nara Leão era pequena – e daí? Alguém cantava como ela, como se sussurrasse ao ouvido despreocupado de seu ouvinte? Sim, era limitada no alcance, mas expressava-se como ninguém em qualquer gênero musical. Foi do rock ao frevo, passando pelo baião, pela valsa, pela MPB, pelo blues. Foi tropicalista, foi bossanovista, foi a melhor intérprete feminina das canções de Chico Buarque; fez o que ninguém conseguiu: cantar alguns temas de Roberto Carlos melhor do que ele mesmo, o dono da bola.
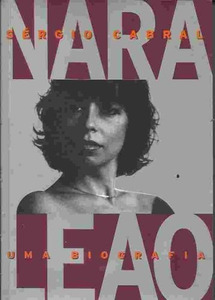 Li a biografia de Nara, escrita por Sérgio Cabral. É um texto esclarecedor em muitos pontos, embora o autor tenha sido jornalista demais ao escrever. Foi protocolar, a meu ver. Faltou-lhe um pouco de Ruy Castro na construção das personagem que nos apresentou. Faltou um pouco de new journalism, acho. A técnica do romance teria feito bem ao texto porque Nara merecia que sua jornada fosse assim celebrada. Bem, é apenas uma opinião.
Li a biografia de Nara, escrita por Sérgio Cabral. É um texto esclarecedor em muitos pontos, embora o autor tenha sido jornalista demais ao escrever. Foi protocolar, a meu ver. Faltou-lhe um pouco de Ruy Castro na construção das personagem que nos apresentou. Faltou um pouco de new journalism, acho. A técnica do romance teria feito bem ao texto porque Nara merecia que sua jornada fosse assim celebrada. Bem, é apenas uma opinião.
O primeiro disco de Nara que comprei foi Com Açúcar Com Afeto, em 1981, no qual ela interpretava canções de Chico Buarque. Por conta da abertura política, foi possível ouvir a gravação (duo com o autor) de Vence na Vida Quem Diz Sim, originalmente na peça proibida Calabar – O Elogio da Traição, e aquela que, também em dueto com o próprio Chico, iria se tornar um clássico: Dueto. A propósito, AQUI, uma raridade. Para quem gosta de Nara e de Chico, é um manjar.
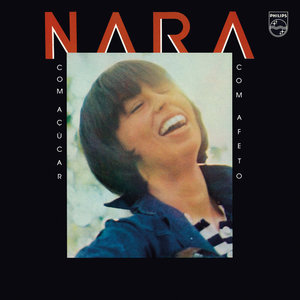
Nara Leão morreu há 32 anos – num dia 7 de junho, o mesmo dia em que Paulo Leminski nos deixou, por conta da cirrose que o acompanhou como uma sombra. Nara não teve melhor sorte: um tumor no cérebro venceu-a por pontos, até levá-la de forma definitiva. O que ficou? Tudo o que dela necessitamos: voz, suingue, candura, sofisticação, ternura, inquietude, talento, coragem, versatilidade. E muito mais, porque assim era ela: infinita e eterna.

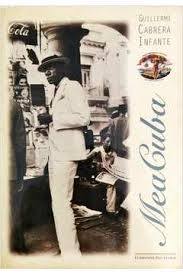 Aqueles que apreciam charutos deveriam ler Fumaça Pura, de Guillermo Cabrera Infante.
Aqueles que apreciam charutos deveriam ler Fumaça Pura, de Guillermo Cabrera Infante.  Ele continua o mesmo – ainda bem! Abusando das referências cinematográficas e literárias, dos trocadilhos e neologismos, traz à superfície inúmeros personagens da vida culta de Havana, principalmente escritores. Sofri razoavelmente com um texto intitulado Carpentier, um cubano de calibre, no qual ele mostra o também cubano Alejo Carpentier – um de meus ídolos literários – como um indivíduo pedante, egoísta e marcado por um narcisismo injustificado, tanto física quanto literariamente. E que fingia ser europeu.
Ele continua o mesmo – ainda bem! Abusando das referências cinematográficas e literárias, dos trocadilhos e neologismos, traz à superfície inúmeros personagens da vida culta de Havana, principalmente escritores. Sofri razoavelmente com um texto intitulado Carpentier, um cubano de calibre, no qual ele mostra o também cubano Alejo Carpentier – um de meus ídolos literários – como um indivíduo pedante, egoísta e marcado por um narcisismo injustificado, tanto física quanto literariamente. E que fingia ser europeu.
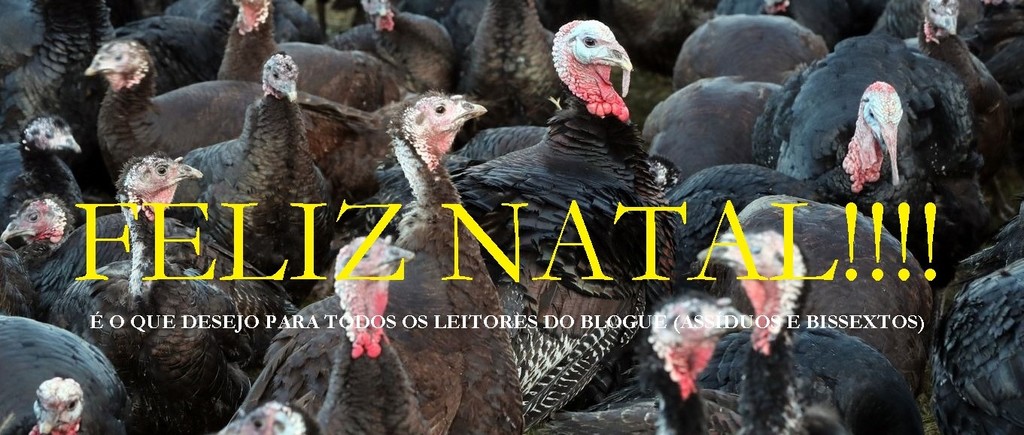

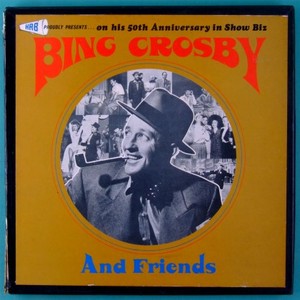

 Meu querido amigo – admirador e conhecedor profundo do rock – Alfonso Favalessa, professor da área exata, enviou-me uma mensagem na qual Geddy Lee, baixista e líder da banda canadense Rush, afirma, com todos os fonemas, que Who’s Next, álbum de 1971 da banda The Who, é o melhor disco de rock de todos os tempos. Você encontra a entrevista
Meu querido amigo – admirador e conhecedor profundo do rock – Alfonso Favalessa, professor da área exata, enviou-me uma mensagem na qual Geddy Lee, baixista e líder da banda canadense Rush, afirma, com todos os fonemas, que Who’s Next, álbum de 1971 da banda The Who, é o melhor disco de rock de todos os tempos. Você encontra a entrevista 

 A caça aos membros do Setembro Negro, fio que conduz a película, tem um sabor especial. É uma aula de estratégia, de maquinações terroristas, de eficiência policial. Os 5 “caçadores” – entre eles o futuro James Bond Daniel Craig – são inteligentíssimos e talentosos, correndo o mundo (Chipre, Itália, Líbano, Grécia, França), determinados a cumprir uma tarefa que, na verdade, não é deles. É impressionante o diálogo entre o líder do grupo e a chefona Golda Meir. Orgulho e vingança acima de tudo. Um filmaço que apreciei assistir novamente e, por isso, você lê este texto.
A caça aos membros do Setembro Negro, fio que conduz a película, tem um sabor especial. É uma aula de estratégia, de maquinações terroristas, de eficiência policial. Os 5 “caçadores” – entre eles o futuro James Bond Daniel Craig – são inteligentíssimos e talentosos, correndo o mundo (Chipre, Itália, Líbano, Grécia, França), determinados a cumprir uma tarefa que, na verdade, não é deles. É impressionante o diálogo entre o líder do grupo e a chefona Golda Meir. Orgulho e vingança acima de tudo. Um filmaço que apreciei assistir novamente e, por isso, você lê este texto.