Saudosista, sim!
Meu querido amigo, o excelente professor, dramaturgo e ator Murilo Goes leu a recente postagem em que falei sobre Chico Buarque e Rubem Fonseca. Chamou-me saudosista, pelo whatsapp. Ele tem razão, embora o tom que comumente usam para tal expressão seja depreciativo. Na verdade, no que diz respeito a minhas áreas de interesse – cinema, música e, claro, literatura –, mantenho-me nos séculos passados. Isso não implica, logicamente, que eu não possa reconhecer que a produção contemporânea seja vantajosa, necessária e, em alguns casos, bastante representativa.
Não tenho dúvidas de que, por exemplo, o cinema produzido há sessenta anos tenha muito mais qualidade, em todos os setores – exceto, claro, naqueles em que a computação mete o bedelho –, do que os filmes produzidos na última década. Refiro-me às atuações, ao roteiro, à trilha sonora e, evidentemente, ao desempenho de quem está por trás das câmeras. No caso, o diretor. Assisto a filmes criados no ventre dos anos 1950 – de qualquer nacionalidade, incluindo a brasileira – e não vislumbro nada que, atualmente, possa rivalizar com eles.

Incomoda-me ouvir um adolescente referir-se a filmes em preto e branco como matéria arqueológica, algo mesopotâmico, assírio. E quanto à música? Talvez isso seja mais evidente e menos questionável. Escolha o gênero: jazz, blues, erudita, rock, MPB, samba. Existe algo, produzido nos últimos trinta anos, que possa ombrear – rítmica, melódica e harmonicamente – com os grandes nomes do jazz ou da música erudita, do rock, da MPB, do blues? Duvido. E antes que me acusem, deixo claro que não falo de gosto musical, porque isso diz respeito à visão pessoal. Falo de técnica.
Faço um parágrafo para me dedicar a minha área: literatura. Não só a produzo como vivo dela, tentando mostrar a estudantes sua importância. J. L. Borges, o extraordinário escritor argentino, afirmava que somente os livros escritos há mais de cem anos deveriam ser lidos. Não discordo, embora isso pareça paradoxal – e é, afinal, a quem se destinará os livros que escrevo? Certifico-me, antes de tudo, e isso de certa forma funciona como álibi, que nada de novo nem de inovador foi escrito nos últimos trinta anos. É claro que, mesmo como álibi, essa afirmação não justifica a inferior qualidade dos textos atuais, quando comparados ao que foi escrito em séculos passados.

Sim, o que está registrado literariamente no passado é, sem mácula na afirmação, muito mais bem acabado e realizado do que o que se faz nos tempos atuais. Se alguém duvida, leia Balzac, Dostoievski, Twain, Eça, Verga, Machado, um de cada país. Há muitos, muitos outros, que me vêm, de imediato, ao pensamento como exemplos essenciais. De outra coisa estou certo: reconhecer-lhes a magnitude, e respeitá-la como base e subsídio, é o verdadeiro estímulo para que se continue a produzir aquilo que, um dia, a olhos pouco treinados, possa tornar-se saudosista.

 Conhece FAMA VOLAT, romance policial cujo cenário é Vitória, ES?
Conhece FAMA VOLAT, romance policial cujo cenário é Vitória, ES?



:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2839960-1492527501-8379.jpeg.jpg)
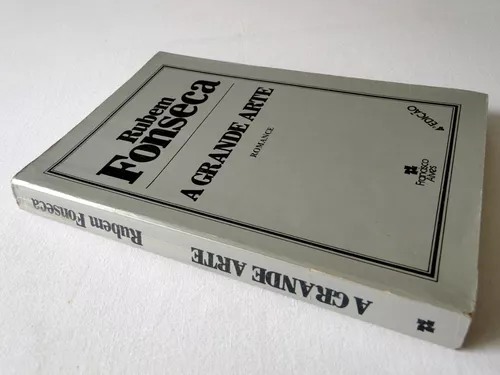

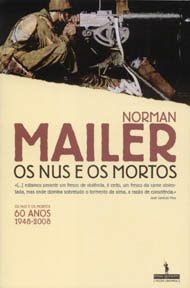 Norman não se ateve à literatura, aos livros – ou ao jornalismo. Foi roteirista de cinema, escreveu para teatro e para a televisão, foi ícone contracultural, e despertou o ódio das feministas (e de qualquer pessoa normal) quando uma de suas esposas o acusou de violência: ele a esfaqueou duas vezes (uma estocada no peito e outra nas costas), com uma pen-knife. A propósito: Norman Mailer se casou seis vezes. A esposa esfaqueada chamava-se Adele Morales, pintora de origem peruana, e que morreu 3 anos após o ex-marido.
Norman não se ateve à literatura, aos livros – ou ao jornalismo. Foi roteirista de cinema, escreveu para teatro e para a televisão, foi ícone contracultural, e despertou o ódio das feministas (e de qualquer pessoa normal) quando uma de suas esposas o acusou de violência: ele a esfaqueou duas vezes (uma estocada no peito e outra nas costas), com uma pen-knife. A propósito: Norman Mailer se casou seis vezes. A esposa esfaqueada chamava-se Adele Morales, pintora de origem peruana, e que morreu 3 anos após o ex-marido.

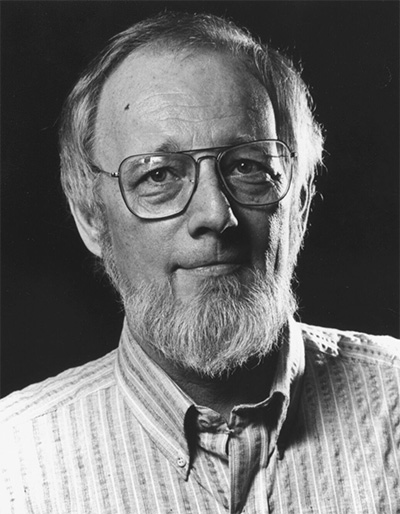 Consta que o notável escritor norte-americano Donald Barthelme leu Epitaph of a Small Winner, do não menos notável Machado de Assis. Para quem ignora, Epitaph of a Small Winner é conhecido por nós, brasileiros, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, o mais ousado dos romances do autor carioca. Consta que a partir de então foi aos contos, e leu vários deles, envolvendo-se cada vez mais com a narrativa do brasileiro. Li vários livros de Barthelme, e identifico pouca coisa em comum com Machado de Assis. Exceto, claro, pelo que vou escrever.
Consta que o notável escritor norte-americano Donald Barthelme leu Epitaph of a Small Winner, do não menos notável Machado de Assis. Para quem ignora, Epitaph of a Small Winner é conhecido por nós, brasileiros, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, o mais ousado dos romances do autor carioca. Consta que a partir de então foi aos contos, e leu vários deles, envolvendo-se cada vez mais com a narrativa do brasileiro. Li vários livros de Barthelme, e identifico pouca coisa em comum com Machado de Assis. Exceto, claro, pelo que vou escrever.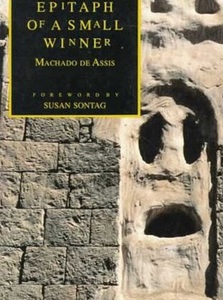 Poder, eu disse? Sim, já que aos mortos tudo é possível. Pelo menos é o que nos aponta o narrador das próprias memórias, Brás Cubas – ou o Small Winner, que despertou a curiosidade de Barthelme e que, possivelmente, inspirou-lhe a história de O Pai Morto. Se não, tudo bem. Para efeito de postagem – a minha! -, afirmo que sim. E enquanto afirmo, vou rezando (gerúndio adequado) para que os outros livros de Donald sejam traduzidos para a língua de Joaquim Maria. Quem sabe o que será do futuro?
Poder, eu disse? Sim, já que aos mortos tudo é possível. Pelo menos é o que nos aponta o narrador das próprias memórias, Brás Cubas – ou o Small Winner, que despertou a curiosidade de Barthelme e que, possivelmente, inspirou-lhe a história de O Pai Morto. Se não, tudo bem. Para efeito de postagem – a minha! -, afirmo que sim. E enquanto afirmo, vou rezando (gerúndio adequado) para que os outros livros de Donald sejam traduzidos para a língua de Joaquim Maria. Quem sabe o que será do futuro?
 Li, há pouco mais de dois meses, Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas & Outras Viagens, do dito cujo. Uma reunião de textos – quase todos ótimos – sobre um tema que me interessa: contracultura. Escrevi sobre isso na biografia
Li, há pouco mais de dois meses, Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas & Outras Viagens, do dito cujo. Uma reunião de textos – quase todos ótimos – sobre um tema que me interessa: contracultura. Escrevi sobre isso na biografia