Jazz doméstico: Afonso Abreu Trio
Deixando as férias para trás: estamos de volta, com plural de modéstia e tudo o mais.
Iniciando 2025 com música. Escrever sobre amigos é sempre perigoso, já que o afeto mete o bedelho onde não deve. Mesmo assim, deve-se tentar. Ouvi — e reouvi — um disco que completará, em outubro, 25 anos: o tal jubileu de prata, seja lá o que isso queira dizer. O disco em questão é Palco Iluminado, de um trio de jazz capitaneado por Afonso Abreu, contrabaixista de primeira, na estrada há 60 anos. Os outros componentes do trio: o pianista Pedro Alcântara e o baterista, tão longevo quanto Afonso, Marco Antônio Grijó. Sim, é meu parente. O disco em questão foi gravado ao vivo, no Teatro Carlos Gomes, centro de Vitória, em 2000. O título é adequado. Eis a capa:
Grijó e Afonso entendem-se há 50 anos: uma parceria quer se iniciou no coração da década de 60 — século passado — e estendeu-se até os dias atuais, mesmo que sem a frequência de antes. Fizeram, e ainda são capazes de fazer, um um de primeiríssima, suingado, pulsante, absurdamente ajustado. Esse ajuste se deve também à presença do pianista, que mostra o caminho por onde todos devem ir. Pedro Alcântara exsuda talento: os dedos parecem multiplicar-se diante de Steinway e seus filhos. É o trio perfeito, a música perfeita.
Há pelo menos 3 performances antológicas: All Blues, de Miles Davis; Autumn Leaves, do húngaro Joseph Kosma, e O Morro não tem vez, da dupla Jobim-Vinicius. Marco Antônio Grijó, um tanto contido porque o repertório assim exigia, é a cozinha de luxo, sublinhando significativamente o que Pedro e Afonso dialogam entre si. A sempre difícil brubeckiana In Your own sweet way é um dos pontos altos do show, com o pianista alternando entre o fraseado lírico e a base percussiva. É uma beleza.

Afonso e Grijó foram mamíferos. O que isso quer dizer? AQUI você entenderá. AQUI também. O entendimento mútuo proporcionou uma adequação musical como pouco se vê, por aqui. Pedro adequou-se: foi o amálgama perfeito para que esse disco pudesse vir à superfície, de forma a apresentar a quem não (re)conhece o jazz feito no ES. Não um jazz com características específicas — música não é moqueca! —, mas a execução exemplar do gênero que foi levado a limites que realmente impressionam. Sim, e o palco se ilumina, porque o trio é jazz, é luz e é som. Aproveite.
De lambugem: All Blues em outra ocasião.


 Natal, época de presentear: música & livros + história da MPB. Ganhei da consorte, por bom comportamento, dois ótimos e essenciais livros sobre a música brasileira. Um deles sobre determinado disco
Natal, época de presentear: música & livros + história da MPB. Ganhei da consorte, por bom comportamento, dois ótimos e essenciais livros sobre a música brasileira. Um deles sobre determinado disco  Outro livro: Para seguir minha jornada
Outro livro: Para seguir minha jornada 
 Tom Jobim é realmente um craque. Uso o presente do indicativo porque obra e autor, aqui, mostram-se confundidos, metonímicos: sua obra não morre, de modo que o criador mantém-se entre os vivos. Ruy Castro também é craque, e já mostrou isso escrevendo sobre Bossa Nova, sobre Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. Escreveu sobre Ipanema, sobre o samba-canção e sobre alguns selecionados artistas do século XX. Escreveu sobre filmes, sobre música e sobre literatura. É homem de repertório farto.
Tom Jobim é realmente um craque. Uso o presente do indicativo porque obra e autor, aqui, mostram-se confundidos, metonímicos: sua obra não morre, de modo que o criador mantém-se entre os vivos. Ruy Castro também é craque, e já mostrou isso escrevendo sobre Bossa Nova, sobre Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. Escreveu sobre Ipanema, sobre o samba-canção e sobre alguns selecionados artistas do século XX. Escreveu sobre filmes, sobre música e sobre literatura. É homem de repertório farto.

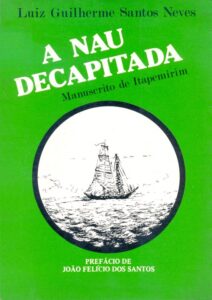 Lembro-me de quando, há mais ou menos 35 anos, a UFES tornou obrigatória a leitura do romance A Nau Decapitada, de Luiz Guilherme Santos Neves. Sendo eu professor para alunos que querem acessar a universidade, preparei-lhes, como uma prova simulada, questões relativas à obra. Alguns acertaram; outro, não. Lembro-me também de mostrar as questões ao próprio autor, Luiz Guilherme que, ao tentar resolvê-las, não obteve êxito. Em bom vernáculo: errou-as. Eis mais uma vez o axioma: o autor não é leitor de si mesmo. Não possui a isenção necessária para, racionalmente, avaliar o texto.
Lembro-me de quando, há mais ou menos 35 anos, a UFES tornou obrigatória a leitura do romance A Nau Decapitada, de Luiz Guilherme Santos Neves. Sendo eu professor para alunos que querem acessar a universidade, preparei-lhes, como uma prova simulada, questões relativas à obra. Alguns acertaram; outro, não. Lembro-me também de mostrar as questões ao próprio autor, Luiz Guilherme que, ao tentar resolvê-las, não obteve êxito. Em bom vernáculo: errou-as. Eis mais uma vez o axioma: o autor não é leitor de si mesmo. Não possui a isenção necessária para, racionalmente, avaliar o texto.
 Massaud Moisés é figura obrigatória em qualquer curso de Letras, e merece
Massaud Moisés é figura obrigatória em qualquer curso de Letras, e merece 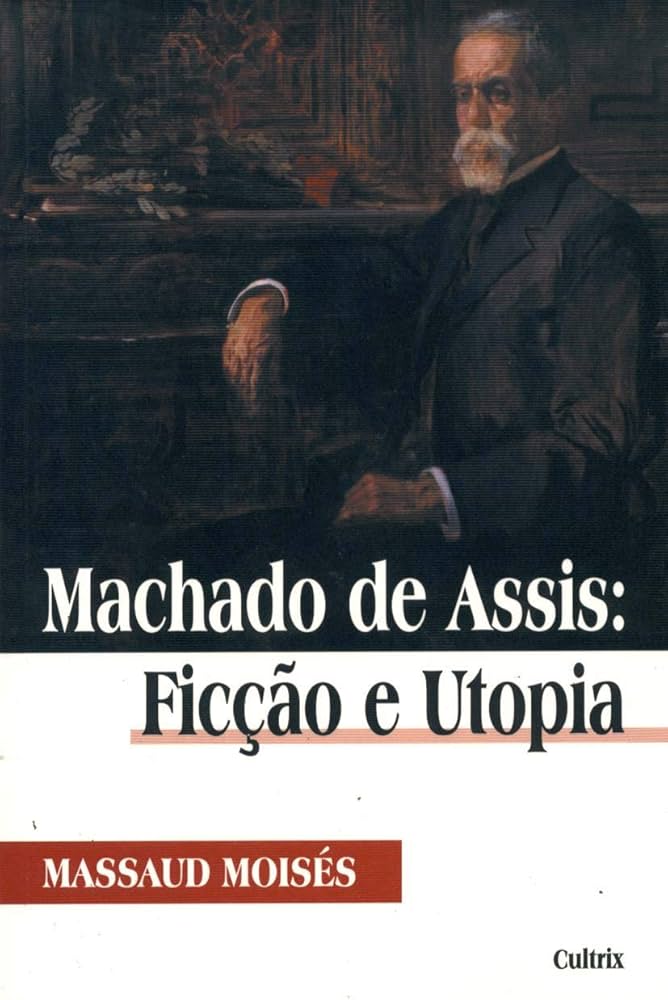 Os ensaios contidos no livro não são inéditos. Foram publicados desde 1958 em revistas, suplementos literários
Os ensaios contidos no livro não são inéditos. Foram publicados desde 1958 em revistas, suplementos literários 

/https://skoob.s3.amazonaws.com/livros/888/KIND_OF_BLUE__1230660530B.jpg) O lendário quinteto de Miles Davis era um sexteto quando um dos maiores discos da história do jazz foi concebido. Kind of Blue: a história da obra-prima de Miles Davis, escrito pelo crítico e estudioso do jazz Ashley Kahn, narra, com clareza, os antecedentes e os consequentes da criação modal de um dos maiores gênios do jazz. Das fofocas aos registros oficiais, da natureza de cada um dos envolvidos no processo de concepção do disco. Mais sobre o livro:
O lendário quinteto de Miles Davis era um sexteto quando um dos maiores discos da história do jazz foi concebido. Kind of Blue: a história da obra-prima de Miles Davis, escrito pelo crítico e estudioso do jazz Ashley Kahn, narra, com clareza, os antecedentes e os consequentes da criação modal de um dos maiores gênios do jazz. Das fofocas aos registros oficiais, da natureza de cada um dos envolvidos no processo de concepção do disco. Mais sobre o livro:  Um dos primeiros livros que li sobre o assunto foi escrito por Luiz Orlando Carneiro: Obras-primas do Jazz, que saiu pela Zahar e, 1986. Livro de didatismo inquestionável e percepção sensível sobre os grandes nomes do gênero. Um glossário, ao final do livro, com o objetivo de familiarizar o leitor com o vocabulário jazzístico, é um dos pontos altos – sem contar, claro, a abordagem crítica de um dos grandes conhecedores brasileiros do jazz.
Um dos primeiros livros que li sobre o assunto foi escrito por Luiz Orlando Carneiro: Obras-primas do Jazz, que saiu pela Zahar e, 1986. Livro de didatismo inquestionável e percepção sensível sobre os grandes nomes do gênero. Um glossário, ao final do livro, com o objetivo de familiarizar o leitor com o vocabulário jazzístico, é um dos pontos altos – sem contar, claro, a abordagem crítica de um dos grandes conhecedores brasileiros do jazz. Jorge Guinle era uma figura. Playboy riquíssimo, frequentador do jet set internacional, cicerone das estrelas de Hollywood, e apaixonado por jazz. Bem, o livro foi publicado há 70 anos
Jorge Guinle era uma figura. Playboy riquíssimo, frequentador do jet set internacional, cicerone das estrelas de Hollywood, e apaixonado por jazz. Bem, o livro foi publicado há 70 anos  Ainda na faculdade, ganhei, de um amigo querido, Jazz
Ainda na faculdade, ganhei, de um amigo querido, Jazz