Sim, meu voto é Haddad, claro!
Perguntaram-me hoje – como se não já soubessem! – em quem eu votarei no 2º turno. Num determinado momento, naquela fração de tempo mínima, que pode nos levar ao desespero ou ao paraíso, cheguei a me sentir ofendido por alguém me questionar isso. A ofensa passou tão rápido quanto veio. Eu sou um homem de ideias. Sou professor há 38 anos, sou escritor publicado desde 1987, com vários livros no currículo, estou secretário de Cultura da capital, sustento minha família com meu saber literário e gramatical, que levo a meus alunos de forma sempre honesta mas nem sempre mui bem recebida (por eles). Isso sem falar na gestão de políticas públicas para a cidade.
Sendo eu um homem de ideias, tenho de me identificar com quem as possui, mesmo que destoem do que penso e profiro. Em bom vernáculo: para que as ideias de outrem não combinem com as minhas, é necessário, primeiro, que esse outrem tenha ideias. Se não as tem, não admito, em minha humilde prática intelectual, sequer entabular diálogo. Sim, por isso voto em Fernando Haddad, mesmo que em alguns pontos não concordemos. Como aventar a possibilidade de votar em alguém que, sem condições de discutir ideias, puxa uma arma, saca um revólver? Como alguém afirma que vou pelo caminho errado se não ouve meus argumentos, não me permite expressão?
Minha arma sempre foi a linguagem, os códigos, as metáforas, a língua, a literatura, a arte. Aquele que possuir um mínimo de sensibilidade nessa área me é simpático, tem meu voto. Alguns amigos (nenhum deles atuando em minha área) disseram-me que eu, como professor, não deveria revelar meu voto. Em outras palavras: ser professor anula minha cidadania, meu direito à expressão. Posso falar de José de Alencar, de Euclides da Cunha e de orações subordinadas, mas não posso dizer, onde quer que eu esteja, que voto em Fernando Haddad. É isso mesmo? E aqui, no meu blogue, posso?







 Tenho trabalhado – por opção – mais do que mereço. Sobra-me pouco tempo para uma atividade absolutamente essencial a um escritor: escrever. Enquanto me aventuro na pesquisa para andamento de um novo romance, uso algumas pausas para assistir a filmes – de preferência na companhia familiar. Aliás, vou mencionar família neste texto. É só esperar. Antes, porém, falo de Antonio Banderas, o ator espanhol. Mas por que falo nele, se, até onde sei, ele não é meu parente?
Tenho trabalhado – por opção – mais do que mereço. Sobra-me pouco tempo para uma atividade absolutamente essencial a um escritor: escrever. Enquanto me aventuro na pesquisa para andamento de um novo romance, uso algumas pausas para assistir a filmes – de preferência na companhia familiar. Aliás, vou mencionar família neste texto. É só esperar. Antes, porém, falo de Antonio Banderas, o ator espanhol. Mas por que falo nele, se, até onde sei, ele não é meu parente?

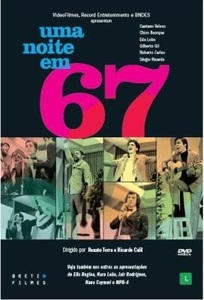 O livro é ainda melhor: traz as entrevistas completas com aqueles que estiveram no Teatro Paramount, local do Festival da Record, capitaneado por Paulo Machado de Carvalho (um dos entrevistados do livro). Aliás, é ele quem revela ter ido buscar Gilberto Gil no hotel, já que o compositor baiano recusava-se, dominado pelo pavor de um palco de festival, a apresentar sua obra-prima Domingo no Parque, que abocanhou o segundo prêmio e ainda serviu de embrião para o movimento tropicalista. Outro embrião é Alegria Alegria, de Caetano Veloso. Também revelou que Roberto Carlos (que não é entrevistado no livro) pediu para nunca mais participar de festivais.
O livro é ainda melhor: traz as entrevistas completas com aqueles que estiveram no Teatro Paramount, local do Festival da Record, capitaneado por Paulo Machado de Carvalho (um dos entrevistados do livro). Aliás, é ele quem revela ter ido buscar Gilberto Gil no hotel, já que o compositor baiano recusava-se, dominado pelo pavor de um palco de festival, a apresentar sua obra-prima Domingo no Parque, que abocanhou o segundo prêmio e ainda serviu de embrião para o movimento tropicalista. Outro embrião é Alegria Alegria, de Caetano Veloso. Também revelou que Roberto Carlos (que não é entrevistado no livro) pediu para nunca mais participar de festivais.



 Em épocas de juvenismo político, quando autores de direita me ameaçavam tanto quanto a gripe que escorria de minhas narinas, cheguei a imaginar que Paulo Francis era um idiota, um pascácio de ideias curtas. Eram os anos 1980, quando ele aparecia no quase fechamento do último telejornal noturno da Globo, comentando sobre costumes, arte, comportamento, jornalismo, música clássica, exposições, livros, teatro – tudo, evidentemente, do e no país em que vivia, os Estados Unidos. A voz era inconfundível, carregada de desprezo por aqueles que discordavam dele e uma certa arrogância com quem o admirava. Blasé ao extremo.
Em épocas de juvenismo político, quando autores de direita me ameaçavam tanto quanto a gripe que escorria de minhas narinas, cheguei a imaginar que Paulo Francis era um idiota, um pascácio de ideias curtas. Eram os anos 1980, quando ele aparecia no quase fechamento do último telejornal noturno da Globo, comentando sobre costumes, arte, comportamento, jornalismo, música clássica, exposições, livros, teatro – tudo, evidentemente, do e no país em que vivia, os Estados Unidos. A voz era inconfundível, carregada de desprezo por aqueles que discordavam dele e uma certa arrogância com quem o admirava. Blasé ao extremo.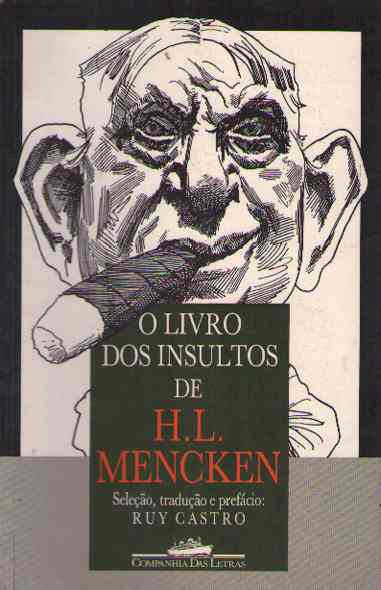 Eu disse, há algumas postagens, que Diogo Mainardi queria ser Paulo Francis. Digo e repito. E falo mais: Paulo Francis queria ser Henry Louis Mencken, o temido jornalista norte-americano cujas observações – tão lúcidas quanto ácidas – de natureza cultural, política, religiosa, econômica, pautaram o quotidiano norte-americano durante 60 anos. Era uma fera indomável, marcado por um profundo conhecimento sobre o assunto que dissertava. Batia em quem considerava medíocre ou desprezível: padres, pseudointelectuais, políticos aproveitadores, escritores de segunda linha, artistas pretensiosos. Não poupou ninguém – a não ser quem merecia.
Eu disse, há algumas postagens, que Diogo Mainardi queria ser Paulo Francis. Digo e repito. E falo mais: Paulo Francis queria ser Henry Louis Mencken, o temido jornalista norte-americano cujas observações – tão lúcidas quanto ácidas – de natureza cultural, política, religiosa, econômica, pautaram o quotidiano norte-americano durante 60 anos. Era uma fera indomável, marcado por um profundo conhecimento sobre o assunto que dissertava. Batia em quem considerava medíocre ou desprezível: padres, pseudointelectuais, políticos aproveitadores, escritores de segunda linha, artistas pretensiosos. Não poupou ninguém – a não ser quem merecia.



 Um dos melhores livros de história da Literatura Brasileira que conheço é De Anchieta a Euclides, publicado em 1977. Foi esse livro que me ensinou a enxergar a grandiosidade dos narradores machadianos. Foi o primeiro a me apresentar Os Sertões como um clássico do ensaio de ciências humanas no Brasil. Mostrou-me que os artifícios retóricos de Pe. Antonio Vieira são sua contradição porque baseados numa razão crítica. E por aí vai. Houve uma época em que eu, militante de esquerda, abandonei José Guilherme Merquior. Ou melhor dizendo: imaginei que o abandonara. Engano. Ele continuava expondo os problemas e me ajudando a solucioná-los. Sou grato. E se você, leitor, não o conhece, está perdendo de ouvir a voz de um mestre. Abandone Diogo Mainardi. Esse não faz falta.
Um dos melhores livros de história da Literatura Brasileira que conheço é De Anchieta a Euclides, publicado em 1977. Foi esse livro que me ensinou a enxergar a grandiosidade dos narradores machadianos. Foi o primeiro a me apresentar Os Sertões como um clássico do ensaio de ciências humanas no Brasil. Mostrou-me que os artifícios retóricos de Pe. Antonio Vieira são sua contradição porque baseados numa razão crítica. E por aí vai. Houve uma época em que eu, militante de esquerda, abandonei José Guilherme Merquior. Ou melhor dizendo: imaginei que o abandonara. Engano. Ele continuava expondo os problemas e me ajudando a solucioná-los. Sou grato. E se você, leitor, não o conhece, está perdendo de ouvir a voz de um mestre. Abandone Diogo Mainardi. Esse não faz falta.


:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5734132-1512844160-8428.jpeg.jpg)